Falar da filosofia enquanto mãe de todas as ciências não passa de pura vanidade. Pois, na realidade, a filosofia, enquanto prática mais ou menos literária ou mais ou menos silogística, existe há muito mais tempo do que aquele em que o “Logos” passou a ser matéria banal. Mas, é bem certo que as relações entre a filosofia e a ciência estão longe de estar completamente reiteradas, apesar de que é certo – ou foi certo, até ao século XIX – que a matéria filosófica passa mais por doxa do que por matéria falsificável.
A filosofia grega mais ou menos essencialista, a patrística e a escolástica, a filosofia do renascimento e das Luzes, assim como toda a restante que passa por “moderna” (compreendendo que este “período” se finaliza com Nietzsche), é, apesar das suas diferentes áreas e dissemelhantes escolas, matéria essencialmente especulativa. Esta filosofia tende a confundir-se muitas vezes com “história da filosofia”, pelo menos no que respeita à prática contemporânea de um pensamento já pensado pelos autores canónicos. Queiramos ou não, a filosofia dita “historicista” tem mais a ver com exercício hermenêutico do que propriamente com uma actividade dita científica. Não existe nela a “metodologia” que é necessária à constituição de matéria adequadamente testável, ou pelo menos não existe simplesmente um “método”.
Sabemos que a divisão da filosofia europeia em dois tipos de praxis pensante – filosofia anglo-saxónica e filosofia Continental (o C maiúsculo é propositado) – nasce, pelo que é legítimo considerar da divisão da filosofia em empirismo britânico (desde o empirismo propriamente dito de Locke até ao empirismo radical ou idealismo de Hume) e racionalismo continental (Descartes, Leibniz, Spinoza), no século XVII, tendo a sua aparente resolução “construtivista” em Kant, no século XVIII. Ora, esta tradição tende a manter-se em pleno século XX, com os países anglófonos a serem essencialmente empiristas e os países do Continente a serem essencialmente dados à “razão historicista”. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a tradição do século XVII tem pouca influência na divisão de escolas da contemporaneidade, sendo que o empirismo lógico pouco ou nada tem (inicialmente) de idealista, enquanto que a filosofia Continental pouco mantém das minudências cartesianas.
Enquanto o continente se mantém relativamente apegado aos grandes pensadores, no formato de novas filosofias como a fenomenologia, o existencialismo, o estruturalismo e a filosofia pós-marxista (portanto, mantém-se como matéria ainda essencialmente especulativa e não científica), nasce, nos países anglófonos, uma tradição de análise supostamente científica da filosofia. Trata-se da filosofia analítica. Esta filosofia pretende tratar os diversos temas filosóficos (à excepção da metafísica e de outros temas dificilmente “comensuráveis”) com recurso à dissolução logicista das matérias linguísticas em questão. E parece que esta tradição do “Tratado Lógico-filosófico” de Wittgenstein e da obra de Russell colheu bastantes fãs, pois, de tal modo a filosofia parecia cientificar-se que os pensadores do Círculo de Viena fizeram uso deste material da Lógica para poderem exprimir a sua filosofia neo-positivista (também chamada de positivismo lógico). Ao que parece, uma grande parte dos filósofos anglo-americanos passaram, de certo modo, a considerar a filosofia (analítica) como matéria científica. Não devemos claro confundir a filosofia analítica com o neo-positivismo, supostamente epistemologia científica, cuja cientificidade viria a ser dominada pela contradição popperiana do princípio da observação.
A ciência aqui estava na forma de trabalhar da filosofia analítica, a qual chegava a dispensar a leitura dos filósofos do passado, tal como um físico não precisa de ler Newton ou Bohr para construir uma bomba atómica. Mas também esta filosofia dita científica viria a falhar na explicação da “enormidade” do mundo. É que, não só Gödel viria a mostrar que nem tudo é matemática ou linguística, como os próprios filósofos analíticos iriam mergulhar numa espécie de esquizofrenia idealista, criando uma brecha para um tipo de filosofia solipsista baseada na análise linguística sem relação com a Realidade real. Lá ficou pelo caminho a pretensão de constituir uma filosofia inteiramente científica.
Em jeito de curiosidade, note-se que os diversos caminhos da filosofia continental também levaram à análise das estruturas linguísticas (numa tradição essencialmente estruturalista, inicialmente meramente formal e semiótica), e também estas acabaram em exercício “idealista”, perpetrado fundamentalmente pelo desconstrucionismo de Derrida.
Conclusão: apesar de existir ainda uma forte tradição analítica, e apesar de a filosofia historicista das grandes obras ser ainda aquela apaixonante e dominante forma de fazer filosofia, o pós-modernismo – a tendência mais moderna e pragmática de fazer filosofia (e, ao contrário do que é dito, algo que merece grande consideração) – assume-se como a nova grande forma de fazer filosofia, que é precisamente a forma de filosofar mais longínqua que alguma vez existiu da forma de fazer verdadeira ciência.














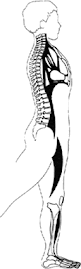


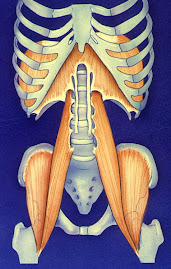





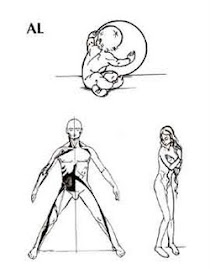


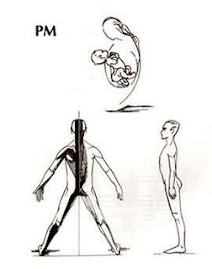





.jpg)




Sem comentários:
Enviar um comentário