Um
sentimento profundo de abandono - a solidão como impropério de pilares ainda
não reificados pela intenção civilizadora - terá levado o homem a criar os
Deuses, face aos quais o desenvolvimento de uma dependência arquetípica urgiria
como inevitável, a mesma que coisifica o h/Homem e que, simultaneamente, o
condena à possibilidade do eterno retorno ao mesmo Princípio que o iniciou. O
eterno retorno é o resultado da angústia de separação face a uma estrutura
arquetípica rememorada como paradisíaca. Também pode ser a necessidade de
renegociar com os fantasmas propiciadores de uma identidade ultrajada, os
demónios de uma infância em que os pilares arquetípicos, se bem que existentes,
se tornaram laxos. E se esses pilares são frágeis ou laxos, ora por défice de
deuses ou amor, ora por excesso do mesmo, a angústia de castração surge muitas
vezes no formato de uma agressividade, porque "o ataque é a melhor
defesa", porque urge gritar o domínio de um Ego deficientemente integrado.
O
comportamento do h/Homem é, a cada momento, o resultado determinístico da
relação precoce com os seus deuses, e da relação dialéctica entre a última e o
conjunto de outros "a prioris". E o homem do Espírito, o filósofo, é
aquele que, de forma genuína, empreende a viagem mais radical no sentido de
firmar os pilares arquetípicos, enganadoramente não tanto os do "Eu"
pessoal mas mais os da Civilização, se bem que mesmo estes acabam mesmo por ser
os do "Eu", a mesma subjectividade que preludiará a preferência por
determinado paradigma e a escolha de um modelo filosófico em detrimento de
outro.
Claro
que o homem do Espírito se arrisca a manter-se como tal eternamente, pois que o
adiamento indefinido da negociação com os fantasmas privados no formato de uma
racionalização e projecção para matérias absolutistas e espirituais promete não
ter resolução à vista. O homem bem seguro de si mesmo não se torna filósofo.
Não pretende ser espiritual. Não tem sequer o sentimento de culpa de origem
arquetípica necessário à disciplinação do pensamento e ao desiderato ético que
subsume o desígnio do Espírito. A um nível radical urge o risco do Super-Homem
i/amoral.
O
próprio acto ético, tal como o comportamento perfeccionista, é alimentado pelo
fantasma castrador, aquele deus fantasmático que, ao invés de permitir a âncora
securizante, alimenta o "Big Brother" interno. Fica o ser destinado a
agradar ao seu próprio Pater fantasmático, processo não resolúvel sem a viagem
terapêutica aos infernos, residência dos demónios recalcados. A "obra ao
negro" saturnina inicia o caminho de progressão, aquele que não é sentido
como necessário ao que se possui a si mesmo e a um atraente ancoradouro do
Princípio.
O
Arché é assim causa de saúde e patologia, harmonia e desarmonia, é o início e o
fim, o que inicia e o que reinicia, o Pai fantasmático e o Ego tornado Pai. O
presente do ser, um pouco como o Eterno Presente do Espírito, só é possível
depois do Arché ter sido purificado. Sem a eliminação das impurezas castradoras
e da poluição da relatividade carnal íntima à temporalidade entrópica é
impossível atingir a Pedra filosofal, a sensação de completude que promete a
Imortalidade.
O
tempo moderno pressente-se livre de Deus e da castração religiosa. Mas ilude-se
ao admitir a liberdade e a evolução. Uma nova religião tomou as rédeas do
controlo das consciências: a ciência, o liberalismo económico. O homem tem uma
fixação pela zona de conforto, recalcitra em procrastinar o momento do encontro
com o Si. Uma Histórico-Sócio-Psicanálise é requerida e o desiderato de uma
Ética Espiritual afecta à presunção da Nova Era arrisca fazer regressar o Homem
ao Arquétipo religioso, ao domínio de um novo Dogma. Nada de espantar,
atendendo a que o eterno retorno cíclico há muito condenou o Homem a repetir
sempre os mesmos erros...
A
Espiritualidade só pode sê-lo se conluiada com a eticidade, mas a ausência de
um critério falsificabilista que permita ao "não sábio" fazer a
distinção entre o verosimilhante e o não verosimilhante exponencia o risco de
uma nova dogmatização mefistofélica.
A
própria modernidade científica possui já esse pendor fáustico, promete dar ao
Homem a capacidade de se autodestruir, nem que seja pela promessa
"médica" da vida eterna, ou porque é a própria Inteligência
artificial que promete vir a ser o novo Deus. A tecnologização produz a
indústria dos mortos-vivos. A máquina e o homem são um só corpo, como
transparece nos filmes de Cronenberg. E ainda há-de vir o tempo em que o Homem
pensará que terá sido o computador a criá-lo a ele e não o contrário.
É
que o tempo modifica a própria História, e são os Valores do presente que
constroem e demonizam os Valores do passado.
A
própria noção moderna de espírito não corresponde verdadeiramente à noção de
Espírito da sabedoria perene. Pois a linearidade Judaico-Cristã-Aristotélica
igualiza espírito e alma e contribui para individualizar aquilo que só fazia
sentido na perspectiva da Totalidade Ética. O liberalismo vem iniciar
decisivamente a temporalidade, matando o Arquétipo, matando Deus, com a
vantagem da morte do mau dogma, com a desvantagem da morte do bom dogma, com a
vantagem da destituição do Deus exotérico e religioso, com a desvantagem da
destituição de um certo panteísmo de continuidades, e lá se trocou
definitivamente a noção de Uno pela noção de Separatividade, afecta à
cientificidade das disciplinas e descontinuidades e ao espírito da
individualidade político-económica.
O
próprio espírito autorístico e a obsessão pelo «Eu» é uma criação do Ocidente e
da modernidade. As Luzes vão reificar o racionalismo com vista ao paradigma de
um Ouro liberal. Na Ciência, é a Razão empirista dos anglo-saxónicos e o
cartesianismo corpo-mente. Na Educação, a massificação dos conteúdos cria a
Pedagogia e reitera o racionalismo humanista, e a razão Espiritual que
justifica o Ensino magistrocêntrico perde-se e até acaba por ser demonizada. A
obsessão pelo «Eu» na Educação moderna levou inclusive à perda da noção do
verdadeiro objecto da Universidade, quando, na verdade, esta não é sequer
Educação, nem lhe compete visar a criação de competências ou profissões.
O
mercado e a cultura da celeridade industrial e plastificada parecem querer dar o
toque final na dessacralização dos tempos modernos. Mas desenganem-se os que
pensam que esta cultura dessacralizada é isenta de deuses. O Big Brother
tecno-científico e industrial aí está repleto de força, a ditadura do mercado dita
a degeneração final do que vale per si;
as coisas já não valem o que valem, elas valem o valor que lhes é imputado, e
esse valor é decidido pelo mercado, e ficam assim o clássico e o sagrado
destituídos da sua qualidade, porque o mercado os acha "antiquados",
coisas do passado, quando o eterno não é passado, presente ou futuro, mas a
modernidade diz também que o eterno não existe, é a ilusão do homem do Espírito,
o mesmo que teve necessidade de criar o Eterno por temer a sua própria
destruição. Esquece o homem moderno que também ele teme a sua destruição. Matou
os deuses, mas inventou outros instrumentos pseudo-arquetípicos, mas que, não
sendo sagrados, não param o tempo, não securizam, não pacificam.
Às
tantas, mais vale o arquétipo controlador do tipo ético, do que aquele que faz
a violência. Mas é que o Homem está condenado a transformar qualquer Arquétipo
inicialmente bom numa estrutura de conforto alienante e castrador. Demanda o
tempo entrópico que o homem volte sempre a fazer asneira. A entropia é a
fisiologia do eterno retorno. Para que, transpondo a condição humana, o próprio
Arché demande a evolução, a mesma que poderíamos querer gorar, mas que estamos
destinados a não o conseguir desejar. E como estamos condenados a tornar-nos
deuses mesmo que o não queiramos, poderíamos sempre tentar a vanidade da
vontade, a desistência do caminho, mas é que a nossa condenação itera a própria
desistência da desistência, senão a ilusão da liberdade...
A
eterna repetição é a regra de um Ocidente que opta por manter a ilusão de que a
actualidade é evoluída face ao passado, quando é o próprio mecanismo temporal
que obriga ao desgaste da estrutura do Princípio paradisíaco. É mais uma
ilusão, a concorrer com a ilusão etnocêntrica - que implica a noção da
superioridade da cultura ocidental, assim como a ideia de que a Europa é o
velho mundo, quando, na verdade, a cultura oriental é que é realmente o berço
da Sabedoria - e a ilusão especista - que depreende que o ser humano é o único
ser dono de consciência, sofrimento, e, como tal, de direitos ético-morais.
Há
ainda a ilusão dos Valores estanques, aquela que permite avaliar o passado à
luz dos valores actuais, sem que um esforço de adaptação hermenêutica tenha
sido requerido. A mesma que permite considerar o passado como
"atrasado" face ao presente, como "mau" relativamente ao
"bem" do presente (como se o "bem" e o "mal" não
tivessem sido sempre meros julgamentos de valores...), quando há somente uma
incapacidade de perceber que não há verdade alguma senão a nossa verdade, o
nosso contexto, e que a tentativa de nos colocarmos num outro contexto reitera
a saída de nós mesmos, o exercício de uma racionalidade meta-egóica, e a necessária
elevação na escada/escala da Consciência, o propósito da libertação da nossa
condição, a tentativa de libertação de uma mente a partir da mesma mente de que
nos pretendemos libertar. Oxalá a mente permita o funcionamento quântico, pois,
de outra maneira, a libertação não terá outra resolução senão na morte da
carne, na extinção do Eu, no encontro do Si-mesmo com o Nulo que somos
incapazes de trazer à cognoscência.
Publicado na Revista "Triplov" (Dezembro de 2013) e também no livro «A Clínica do Sagrado. Medicina e Fisioterapias, Psicanálise e Espiritualidade» (Edições Mahatma)














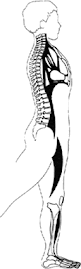


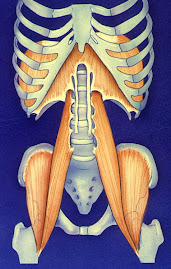





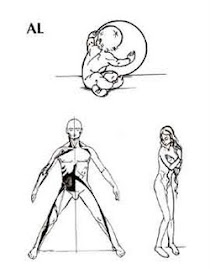


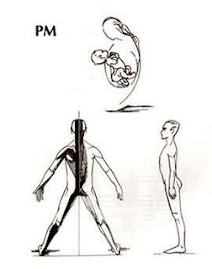





.jpg)




Sem comentários:
Enviar um comentário